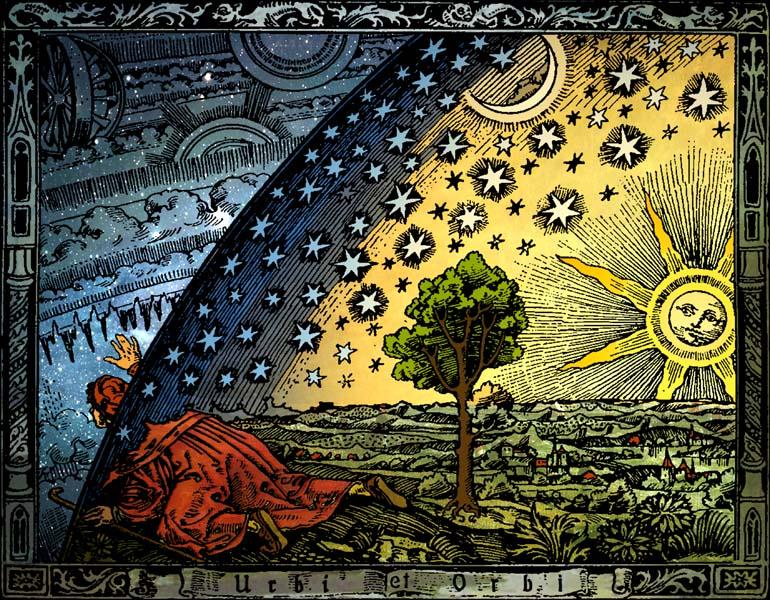Me afastei da multidão. Fazia calor. Calor demais. Subi a rua, rumo a um ponto que era mais fresco. Em sentido contrário, pessoas suadas e coloridas desciam animadas, falantes, como manda o figurino do Carnaval. Já passava das seis, a luz já estava bem baixa, mas o dia seguia claro. Quase no topo da rua, avistei a mureta de uma casa velha que conheço desde a adolescência e me sentei. Tirei um cigarro da pochete, que logo percebi imprestável, pois um saquinho de purpurina (que não era meu, mas que sabe-se lá por que diabos concordei em guardar) havia estourado e abrilhantado de modo irremediável tudo dentro.
“Merda!”.
Havia me dedicado, com relativo sucesso, a impossível tarefa de evitar ser excessivamente abraçada por corpos purpurinados durante o bloco. E agora estava ali, olhando todas as minhas coisas carnavalescamente cintilantes. Nenhum mísero cigarro sobreviveu.
“Merda!”
Respirei fundo e comecei a tirar tudo da pochete e tentei limpar o melhor que pude. Dava pra ver que um tanto de purpurina se acumulava no fundo. Deixei as coisas em cima da mureta, pulei na calçada e virei a pochete do avesso. Péssima ideia.
Na mesma hora, o vento, encanado pelos prédios e que deixava o alto daquela ladeira tão convidativo naquele fim de tarde infernal, soprou forte, fazendo todo aquele glitter rodopiar pelo ar como um pequeno furacão, que começava nos meus pés e terminava no topo da minha cabeça. Ali, me rendi. Aceitei a derrota. Por hoje, bastava de vicissitudes carnavalescas.
Subi novamente no murinho e enquanto antecipava toda aporrinhação que seria tirar aquele brilho do meu corpo e cabelos, olhei uma última vez para os cigarros brilhantemente arruinados na vã esperança de que algum deles pudesse ter sido poupado. Nenhum. Zero.
Não me restava muito o que fazer a não ser descer a rua e avisar as amigas de que era chegada a hora da minha partida. Mas antes de saltar para o chão novamente, eu o vi, do outro lado da rua, de pé, encostado num muro alto, quase de frente pra mim, me olhando. Não sei a quanto tempo ele estava ali parado, só sei que fumava.
Poucas vezes senti tamanha urgência por um cigarro.
Firmamos o olhar um no outro por um bom tempo. Desviei. Olhei de novo. Ele desviou, tragou, olhou de novo. Ficamos assim, nessa espreita sem disfarce. Até que chegamos naquele limite do chaveco visual, onde a coisa vai perdendo o molho caso os espectadores não partam para alguma ação. Daí me acendeu uma faísca nas ideias, trazida por outra lufada de vento que desceu ladeira abaixo.
Peguei o celular e só precisei de poucos segundos para desenterrar o contato. Escrevi: “Tira a camisa” e mandei. Voltei a me enganchar no olhar dele novamente.
Do outro lado da rua, o celular tocou ou vibrou, pois o vi colocar a mão sob o bolso do short. Mas ele não pegou o aparelho. Escrevi de novo.
“Tira a camisa pra mim”.
Na segunda tentativa ele pegou o celular. Leu e me fitou de volta, levemente incrédulo. Sustentei a leve incredulidade com serenidade.
Do meu lado da rua, repeti, usando a boca: “tira”.
Estávamos a uns dez passos de distância, mas pude vê-lo tentando não rir, segurando a nuca e olhando para o chão, do mesmo jeito que já o tinha visto fazer algumas vezes, anos atrás. Guardei o celular e me mantive sentada, esperando.
Quando ele levantou a cabeça, encompridou os olhos pra cima de mim, e logo depois começou a espiar quem mais estava em volta, como se ficar sem camisa na quentura do Carnaval fosse uma quebra de decoro das mais escandalosas. Depois do curto escrutínio, percebeu que as pessoas subiam ou desciam a rua sem prestar atenção na gente. Nossa breve história seguia invisível a olhos vistos.
Daí ele tirou. E não escondi um sorriso que certamente mostrou todos os meus dentes. Demorei-me nele um tanto de longe, antes de chamá-lo para perto. Achei-o tão bonito assim, na outra calçada, de peito aberto, esperando um sinal meu, com o cigarro pendurado nos lábios.
Fiz um movimento leve com a cabeça e ele veio vindo, sem pressa, com o cigarro na mão esquerda, a camisa embolada na direita e um arranjo colorido na cabeça. Mais um vento passou e com ele me veio mais uma vontade. Abri a pochete e passei a palma da mão na parte de dentro, salpicada de pó furta-cor.
Ele se achegou, ficando de pé na minha frente. Ainda sentada na mureta, mostrei minha mão faiscante e perguntei: “Posso?” “Pode”, disse ele. Pousei a mão no alto direito do torso dele e desci, desenhando brilho até o quadril.